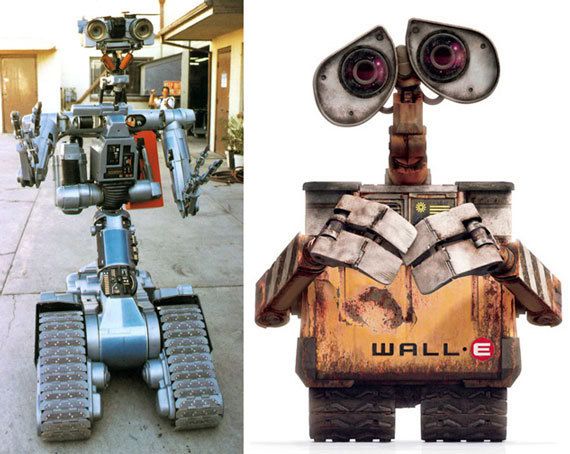Sozinho num quarto do deprimente Hotel de Valença, depois da alegria de descobrir que o televisor do quarto emite a Sport Tv, onde vejo, orgulhoso, as reportagens sobre o Nelson Évora (aquele discurso honesto juntamente com o sorriso genuíno já seriam ouro para mim, enquanto que a prata da Vanessa e toda a bazófia que a envolta me dá o mesmo prazer que a bosta que involuntaria e inevitavelmente piso na quinta da enorme Rita (as pessoas que merecem filmes continuam a não os ter), em Paus, freguesia de Alquerubim, ou seja, o prazer de ouvir qualquer coisa como “epá, acho que há pessoal que não tá bem a ver o qué isto dos Jogos Olímpicos, tipo, vem aí só mesmo naquela e não pode ser meu, tipo, é preciso sofrer pelo nosso Portugal e, epá, o Nelson ganhar, cum carago, lindo pá, nem tenho palavras, tipo, lindo”) e antes de pegar no Pynchon, deparo-me com o Miguel Gomes, em directo, no Jornal 2.
Imediatamente, espero o pior – cinema na televisão é um exotismo e a jornalista que se prepara para falar com o Miguel Gomes evidencia no seu cabelo (Daniel, seu cabrão preconceituoso) o conhecimento e a preparação para a entrevista. Confirma-se: não só não viu o filme como não sabe do que está a falar como ainda, no fim, cereja no topo do bolo, se engana no nome do filme. Seria caso para ter a mesma pena do Miguel Gomes como a que se tem do João Lopes, semanalmente na Sic Notícias (embora já não veja há muito tempo), a falar com alguém que olha para ele a pensar, positivamente, que daí a cinco minutos ainda faltará uma semana para nova tortura. Mas não. Miguel Gomes está nas sete quintas e no seu ar de quem não tem dormido simplesmente para não estar muitas horas sem fumar lá vai ficcionando o seu enfado ao mesmo tempo que faz o suficiente para ficarem documentadas no Jornal 2 as informações que ele quer ver transmitidas. Quem esteve no Doc’s Kingdom espera que a qualquer momento surja no enquadramento Vasco Pimentel para chamar badalhoca à jornalista e génio ao Miguel Gomes. Espera, por assim dizer, uma palhaçada.
Palhaçada que não acontece, mas que, revendo o filme, está lá em “Aquele Querido Mês de Agosto”. O cinema português sempre foi moda crítica e enquanto Oliveira não chega aos 100, Costa junta os seus cada vez maiores tostões (“Tarrafal” por milhões de euros – maior incesto só o plano do Exmo. Senhor Presidente Emílio Rui Vilar no “Tapete Voador”, do professor), é preciso que se arranje artista. Quem melhor que alguém que faz um documentário que quer ser ficção, ao mesmo tempo que uma ficção que quer ser documentário (e aqui viria a Vanessa dizer “tipo, uma cena que vocês não estão a ver bem, tipo, uma grande mistura de cenas, epá, lindo”)? Ninguém – e lá temos que o gramar.
Não consigo deixar de me sentir convocado, quando vejo que se quis pôr no filme as próprias dificuldades de o fazer (“meu, faz-me lembrar aquele filme, meu, um italiano pá, bué-da-antigo mesmo, como é que se chama carago?, foda-se, ai desculpa, fosga-se, aquele com aquela gaja boa como tudo, tipo, linda (…)”), até ao ver aquela sempre engraçada piada de pôr nos créditos finais o nomes das pessoas que compuseram o júri que aprovou o projecto. E é isso, de facto, aquilo que se me afigura como mais interessante no filme do Miguel Gomes: uma certa rebeldia de filmar, de aproveitar o momento presente. Toda a conversa documentário/ficção só surge através disto, concedo, mas o resultado final é desapontante. Para mim, pelo menos, que acho que o que é interessante nos filmes que trabalham a mencionada fronteira entre documentário e ficção é o apagamento da linha de fronteira. Parece-me que Gomes trabalhou mais na ideia de melting pot, opção certamente, mas que oferece marcas (o plano da sobreposição de imagens ou o plano da ponte) que eu acho frustrantes. Pode ainda dizer-se que a ficção começa antes disso, muito cedo, eventualmente com a sequência da produção a irromper na equipa de filmagens (será, também, o começo da palhaçada), mas o documentário das muitas sequências seguintes parece contrariar essa ideia. Daí que, concordando com o que o Luís Miguel Oliveira diz no ípsilon (a convocação de José Manuel Costa, que escreve um excelente texto, para este ípsilon torna-o o melhor de que me lembro) em relação ao plano em que a orquestra entra em campo para comentar a acção (a melhor sequência do filme, a meu ver), discordo de que não haja uma fractura, que me parece haver, evidenciada até na singularidade dessa sequência dentro de todo o filme.
Revendo o filme, lembrei-me de “La Graine et le Mulet” (Abdel Kechiche, 2007) e da sua maravilhosa sequência da refeição em que, devido à sua duração, irrompia na ficção o documentário – da rodagem, precisamente. Entre estas diferenças que estabeleço para mim, fico com Kechiche. Até porque Kechiche não deixa os seus actores desamparados, estabelece aquilo que se sente uma família, ao contrário do que sucede em “Aquele Querido Mês de Agosto”. E Kechiche não é palhaço – se encontro coisas interessantes no filme do Miguel Gomes, encontro também aquilo que tenho chamado de palhaçada: as sequências com a equipa de filmagem, sendo a que termina o filme insuportável, juntamente com algumas piadas demasiado
clever (não admira que goste do Wes Anderson), bem como aquela inenarrável sequência do homem em primeiro plano e a mulher, lá atrás, encostada à parede (o público português, confirmo na sessão do King, continua a rir desalmadamente – se não conhecem aquilo que passa na tela, como é o caso, a risada intensifica-se). Pode ser feitio meu, mas deixemo-nos de palhaçadas, não queiramos ser demasiado espertos, façamos as coisas com seriedade. Como o Nelson Évora.